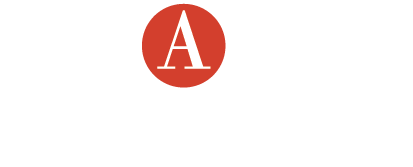Canclini na Cátedra
Entrevista com Urânia Munzanzu, realizada por Sharine Melo, pela ferramenta Zoom, em 25 de fevereiro de 2021.
[Sharine] Já nos conhecemos. Você sabe que estou fazendo o trabalho sobre a Lei Aldir Blanc, com o Prof. Canclini, na USP.
[Ana Lúcia] Parabéns pela iniciativa. Acho muito importante e necessária. Ainda estamos debruçados sobre essas pesquisas, sobre os dados. Ainda não temos informações. A lei é muito recente. Ainda estamos em execução.
[Sharine] Meu primeiro interesse é conhecer um pouquinho de sua história, de sua trajetória profissional e, também, de sua participação nesse movimento, nessa articulação em rede para a criação a implementação da lei.
[Ana Lucia] Agradeço por me chamar, a você e ao querido Canclini, por quem tenho uma amizade e uma admiração muito grandes. É um querido amigo. Vou falar rapidamente sobre meu envolvimento na formulação da lei: sou filiada ao Partido dos Trabalhadores [PT] desde sua criação, já há quarenta anos ou um pouco mais, junto com minha mãe, que é educadora, vem da educação no campo, foi da UBES [União Brasileira dos Estudantes Secundaristas] e é uma das fundadoras desse partido. Estou dizendo isso porque foi daí que chegou a mim a primeira minuta da lei, também pelas gestões de que fiz parte no Ministério da Cultura, pelas políticas públicas, sobretudo o Sistema Nacional de Cultura, o Cultura Viva e tantas outras. Acabei fazendo mestrado e doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana na UERJ [Universidade Estadual do Rio de Janeiro]. Foi a partir desse lugar que acabei me envolvendo. Sou do grupo, do Partido, da Secretaria Estadual de Cultura, do PT do Rio de Janeiro. Chegou uma primeira minuta pedindo nossas contribuições, um primeiro documento. Eu procurei ressaltar principalmente a base do Sistema Nacional de Cultura, na direção de reforçarmos os pilares da construção dessa política de estado para a cultura, a partir do pacto entre os entes federados, a descentralização no repasse dos recursos do Fundo Nacional para os fundos municipais e estaduais para que os estados, os municípios e o distrito federal tivessem total autonomia para executar os incisos previstos na lei, com a transferência de renda básica, editais e demais ações de acordo com as necessidades e realidades vividas nas regiões, áreas e territórios locais. Achei fundamental, para essa lei, por mais construída e bem elaborada que fosse, para chegar mesmo à ponta, que o recurso fosse distribuído, como foi. Foram três bilhões: um bilhão e meio para Estados e Distrito Federal; um bilhão e meio para municípios.
Em seguida, eu fui chamada para compor, junto com ex-gestores do Ministério da Cultura, como eu, o comitê Convergência Nacional, da Lei Aldir Blanc. Criou-se um grupo nacional, junto com o Célio Turino, uma das pessoas com quem trabalhei no Ministério, e outros gestores e ex-gestores do MinC. O Célio também me chamou e à Chris Ramirez, assessora parlamentar da Deputada Federal Benedita da Silva que, naquele momento, presidia a Comissão de Cultura da Câmara Nacional e teve a iniciativa de criar a lei junto com mais de vinte deputados de oito partidos. Ela convocou a criação da lei, naquele momento, porque manifestos e cartas chegaram às suas portas, em início de março, conforme a linha do tempo que está na cartilha da Lei Aldir Blanc. A cartilha que foi elaborada conta essa linha do tempo e como chegamos a essa necessidade extrema pela qual já vínhamos passando ao longo dos últimos anos, de perda, de cortes no orçamento. Não à toa esses três bilhões estavam parados no Fundo Nacional de Cultura. Quando isso chegou à Comissão de Cultura da Benedita, ela colocou como prioridade, como emergência, e chamou esse conjunto todo de parlamentares para construir a lei. Uma das políticas sobre a qual mais me debrucei no Ministério, nas quatro gestões de ministros em que trabalhei, foi o Sistema Nacional de Cultura. Fui a cada município. Trabalhei, principalmente, na Regional do Ministério da Cultura Rio-Espírito Santo. Fui muito ao Espírito Santo. Mas, principalmente no Rio de Janeiro, fui a cada um dos 92 municípios, construindo, com os gestores locais, com as comunidades locais, com a sociedade civil, essas bases das políticas públicas. No meu entender, a Lei Aldir Blanc seria uma forma de oxigenar, como dizia o Gilberto Gil, o Ministro na época, esse do-in antropológico, de oxigenar os pontos vitais do país, de baixo para cima e não de cima para baixo. Não levando a cultura para, mas fazendo com. Isso muda tudo. Para discutir, reunir, fortalecer os conselhos e os fóruns regionais, que sempre trabalharam na direção dessas políticas, mas que se viam com muitas dificuldades na mudança de gestão, no desmonte que estamos vendo acelerado aí, consideramos e colocamos na centralidade essa discussão, essa mobilização, esse diálogo construído com a sociedade civil.
Criamos um fórum no Rio de Janeiro, um fórum de cultura para acompanhar, fazer a campanha e tudo o mais da Lei Aldir Blanc. Também passei a compor esse comitê dos fóruns regionais. São dez regiões que compõem o Estado do Rio de Janeiro. Então, esse comitê, esse fórum estadual, é composto por dez fóruns regionais. Fizemos muitas lives, webnários, webconferências, debates. Acabei, nesse processo, nos últimos seis ou sete meses, sendo eleita como conselheira de cultura suplente da Metropolitana 1, da Capital do Rio. Também criamos quatorze comissões temáticas. Sou relatora de duas delas: uma é da Lei Aldir Blanc e outra é do Plano Estadual de Cultura. Passamos a fortalecer o CPF da Cultura, mais do que nunca: Conselho, Plano e Fundo. Mas não temos cadastro, o sistema de indicadores estava desatualizado também. Os cadastros – dos pontos de cultura e pontões, o cadastro nacional de artesanato – se já eram, tornaram-se cada vez mais importantes – em um setor que é informal – para saber quem são esses fazedores, trabalhadores da cultura, como trabalham, em que espaços. Então, ressaltamos muito a importância de recuperarmos os cadastros, do SNIIC [Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais], o cadastro dos pontos e pontões, o de artesanatos, os planos de cultura, toda essa memória, todo esse legado que foi construído. A pasta do Ministério foi extinta pela terceira ou quarta vez: foi com o Collor, foi com o Temer e agora com o Bolsonaro. Estamos passando por uma guerra cultural, uma desinstitucionalização crescente das políticas, das instituições, das fundações vinculadas ao Ministério, a Funarte, a Fundação Biblioteca Nacional, a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Palmares… Acho que a Lei Aldir Blanc veio oxigenar, digamos assim, veio dar um oxigênio para nós.
[Sharine] E quais foram os resultados da Lei até agora? Como ela tem contribuído tanto para o auxílio aos artistas neste momento emergencial quanto para as políticas públicas em geral?
[Ana Lucia] Sem dúvida, a Lei vem atender a uma enormidade de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de forma ampla e diversa, nos territórios e regiões do país. Esse momento da pandemia nos isolou de muitas formas e isso teve um impacto muito grande em nossas artes presenciais. Porém, nos aproximou também. A forma online fez com que também dialogássemos, construíssemos vários debates e proximidades… Atendeu a uma enormidade da sociedade civil. Isso eu achei interessante. Ou seja, não veio somente dos órgãos gestores, muito pelo contrário. Mas a execução desses recursos não foi feita por todos os municípios, por diferentes motivos: por dificuldades de composição técnica, burocracias, má compreensão, naquele momento, de como executar; um temor muito grande que percebíamos, por parte de alguns gestores, de ter que prestar contas ao Tesouro, ao TCU [Tribunal de Contas da União]: “Será que vou executar bem? Será que vou conseguir?”. Alguns desses órgãos, algumas dessas cidades, estão em situação de inadimplência também. Já tínhamos visto isso no passado, com o Ministério da Cultura. Fizemos uma ação de repasse para ações aqui no Rio de Janeiro e, por meio dos gestores, percebemos a dificuldade de repassar recursos por questões de inadimplência. Muitas cidades – aqui no Rio, foram cerca de cinco municípios – tiveram mais dificuldades para executar as ações. Algumas devolveram o recurso para o Estado, não executaram. Por isso, houve sobra de recursos. Em outros estados, foram muito mais municípios. Sobraram em torno de 800 milhões de reais. Nesse momento, estamos lutando para aprovar o Projeto de Lei 795/21 exatamente para termos um prazo maior de execução, seja para contrapartidas, seja para prestação de contas daqueles que já foram apoiados pelos editais, por ações e incisos, seja para os municípios que ficaram prejudicados, para fazedores de cultura desses municípios que ficaram fora do processo. No ano passado, também fizemos uma ampla mobilização com cartas, além da mobilização do “aprova já”, “sanciona já”. Nunca a sociedade civil mandou tanta carta aos parlamentares, ao Legislativo, a cada deputado, a cada senador, ao TCU, à Confederação Nacional de Municípios. Acho que receberam 500 mil cartas nossas! As universidades fizeram cartas também. Isso é bom ressaltar porque estou na UFF [Universidade Federal Fluminense] e na Associação Brasileira de Gestão Cultural, onde temos cursos de MBA [Master of Business Administration] sobre museus, gestão e produção cultural, na Universidade Cândido Mendes. Colhemos assinatura de instituições, de universidades, de grupos, de coletivos. Na terça-feira, teremos uma audiência pública, convocada pela deputada Benedita da Silva, para ver se conseguimos barrar os vetos. O Projeto de Lei 795/21, de ampliação, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, no Senado e pelo TCU, mas foi vetado pelo Governo Federal. Estamos lutando para que esse recurso não volte. Fizemos cartas também no ano passado, nos reunimos com procuradoria. Nunca nos reunimos com tantos procuradores.
Embora defensor, participando do processo de conferências, apresentando propostas, o trabalhador da cultura sempre achou a política pública uma coisa meio burocrática, meio distante. Eu nunca vi o trabalhador abraçar com tanta força. Isso realmente me emociona, o quanto é importante termos uma política de Estado e não uma política de gabinete, chamada de gestão de gabinete, que, por mais bem intencionada que seja, acaba lançando um edital aqui e outro ali, sem considerar as fragilidades, um diagnóstico, as necessidades, sem uma escuta, sem controle social, sem uma participação, sem entender a quem e por que atender, sem uma amplitude maior. Isso acaba resultando em concentração de recursos em determinadas áreas, regiões, territórios, projetos e proponentes. Acabei de fazer um artigo para o ENECULT [Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura], na Bahia, e para o dossiê da Pragmatizes, revista da UFF. Eu entrevistei vários trabalhadores da cultura para entender essa precariedade. Muitos deles ressaltavam a concentração em determinadas áreas, em determinados segmentos, em determinadas linguagens, em determinados projetos. Ressaltaram muito a importância da Lei Aldir Blanc, o quanto fez a diferença, o quanto foi um respirador, o quanto foi significativa para diminuir os impactos desse estado de vulnerabilidade e precariedade. Queria ressaltar isso. Outra coisa a ressaltar nos resultados é que vemos uma diferença de alguns estados e municípios sobre os critérios adotados na execução dos recursos, dos incisos, principalmente no que se refere aos editais. Foi um diferencial. Em algumas cidades, percebemos que o recurso conseguiu chegar a todo mundo. Em outras, os critérios foram um pouco excludentes, ainda que bem-intencionados. Aqui no Rio de Janeiro, no nosso fórum estadual, fizemos muitas cartas e reuniões com a Secretaria de Estado. Com a Secretaria Municipal, acompanhamos todo o processo de reuniões, de debates, ressaltando que não era fomento, embora estivesse escrito fomento: “olha, não é fomento. É emergência. Esse é o principal objeto da lei. Estamos falando de uma emergência. Não estamos falando de mérito, de quem escreveu melhor, de qual projeto é bom. Não. É simplesmente para atender a uma vulnerabilidade, uma necessidade extrema”. Ressaltamos muito isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos, como resultado desses editais mais de 600 suplentes, que ficaram na suplência mesmo com alta pontuação. Eu sou um caso. Eu faço um ciclo de pensamento para essa área pouco apoiada, a formação, o pensamento, o pensamento crítico. São ciclos de debate, que já vinha fazendo desde 2006. Néstor Canclini participou várias vezes, Boa Ventura de Sousa Santos e outros tantos pensadores. Essa é uma área que tem pouco apelo de mercado, midiático, de negócios, de veiculação de marca. É muito pouco apoiada na cadeia produtiva, pouco considerada. Eu fiquei com boa pontuação nesse ciclo. Porém, fiquei de fora, como outros tantos, que ficaram nessa lista chamada suplência. Outra fragilidade que percebemos foram os pontos de cultura, talvez mais de 150 deles. No Rio, foram apoiados, mas muitos estão inadimplentes e não conseguiram recursos. É preciso discutir, rever as fragilidades desses pontos de cultura que ficaram de fora e o porquê, desses suplentes que ficaram de fora e o porquê. Na reunião que fizemos ontem, com a Secretária de Estado, em que um dos pontos era a Lei Aldir Blanc, nós dissemos: “Secretária, sobraram no Banco Nacional R$ 800 milhões. Estamos brigando para prorrogar esses prazos, para tentar barrar o veto do presidente. Porém, temos que pensar, agora mais do que nunca, nos critérios desses recursos, uma vez implementados. Precisamos considerar os municípios que devolveram os recursos e não foram atendidos, considerar a lista de suplentes, considerar os inadimplentes, os chamados inabilitados que, portanto, ficaram excluídos de uma emergência e não foram apoiados”.
[Sharine] Você já tem alguma estatística nacional? Estou vendo muitas estatísticas sobre quantos municípios aderiram, qual o valor do recurso repassado… Mas há dados sobre quantos editais foram lançados, quantas pessoas foram contempladas?
[Ana Lúcia] Neste momento, nós nos concentramos muito na mobilização, na campanha, na execução e ainda estamos lutando pela prorrogação dos prazos e pelos critérios. Agora, há a possibilidade da Lei Aldir Blanc 2, com o projeto da Jandira Feghali de transformá-la numa política pública, e, também, da Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc ainda está em processo. Mas estamos, sim, dedicados a levantar todo esse caldo de execução e, com as universidades, principalmente, com a UFF, estamos dedicados a fazer o levantamento de como foram executados os recursos, quais são os dados. Ontem, por exemplo, na reunião, a Secretária citou questões do TCU: há proponentes que foram apoiados no município e também no estado. Ou seja, receberam duas vezes. Isso não foi considerado no momento dos cadastros. Há muitas questões sobre as quais precisamos nos debruçar. Precisamos avaliar os impactos, o atendimento, a execução. Estamos dedicados a isso, mas ainda não temos nada organizado. Talvez tenhamos algo “pingado”, solto, mas ainda está em processo.
[Sharine] Se entrarmos nos sites dos estados e das capitais, já há alguma coisa, mas não há nada organizado. Precisaríamos entrar no site de todas as cidades, e é impossível.
[Ana Lúcia] Você conseguiria pegar um pouco dos dados sobre a execução na página da Plataforma Mais Brasil. É onde os municípios cadastravam seus planos de ação.
[Sharine] Mas tem o plano, não tem o resultado.
[Ana Lúcia] É porque está em processo. Como o prazo terminava agora e estamos conseguindo ampliar, essa é uma questão crucial para todos nós. Uma preocupação muito grande revelada pela Secretaria foi a questão dos prazos de execução. Com a elaboração, o processo dos encontros, o processo das reuniões, a readequação, a divulgação, ficou um tempo curto, com pessoas que pegaram COVID, com dificuldades presenciais para tirar essas dúvidas, ir até a secretaria, com corpos técnicos fragilizados, com secretarias que não têm secretários de cultura, às vezes da nossa área… Há uma série de questões que estão atravessadas aí.
[Sharine] Como você acha que a Aldir Blanc pode influenciar as políticas públicas para a cultura depois da pandemia? Já há, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo que, de alguma forma, é inspirada na Lei Aldir Blanc… Acho que há caldo para continuar.
[Ana Lúcia] Tem uma coisa de que gosto muito, é meu lado atriz talvez… Gosto muito de perceber o que atravessa o simbólico, o que isso está me dizendo. Eu considero que essa lei expôs muitas e diversas vozes e corpos das nossas fragilidades, carências e potências, que só poderão ser corrigidas e consideradas a partir das políticas públicas. Nossa área é muito vista e, às vezes, mal utilizada e compreendida, do ponto de vista das artes. Há uma arte midiatizada, espetacularizada, aquela que aparece na mídia, que ganha uma centralidade. Nós estamos sendo muito atacados, como se fôssemos privilegiados, e é muito pouco considerado o que sai desse espectro. Cultura é agricultura também, como diz Alfredo Bosi. Ela tem a labuta do solo, está ligada ao labor da terra, ela atravessa outras áreas, outras vertentes. Nós saímos dos nossos bastidores ou da ágora, desse lugar do palco, onde nossas artes, em geral, são colocadas nas suas potências, para fazer rir, chorar, para provocar. Mas é como se abríssemos as vísceras de nossos corpos para dizer: “somos humanos como vocês, estamos sofrendo como vocês, somos informais, temos fragilidades, temos dificuldades de sobrevivência”. Nós ocupamos a ágora, simbolicamente, para evidenciar nossa finitude, nossa dimensão humana. Eu fico emocionada quando falo. Há a dimensão do trabalho: não temos condições dignas, direitos trabalhistas, previdenciários, tributários, não temos garantia nenhuma, às vezes nem sequer contratos, continuidade de ações. Isso é independente da pandemia. Já não temos. Isso foi evidenciado, sendo necessário definir os marcos regulatórios para esse setor. É por isso que venho escrevendo sobre trabalho, sobre as dimensões simbólica e cidadã. De que cidadania cultural estamos falando? Quais os impactos nas áreas desassistidas, as fragilidades, opressões? Tudo isso está em nossa cultura e estão exigindo políticas que não coloquem a cultura de uma forma espetacularizada, usada por um turismo predatório, usada como negócio, usada como um chamado empreendedorismo, empresariamento de si, que é uma outra exploração. Como superar as desigualdades regionais, locais? Como podemos chamar atenção para isso? Em um momento de pandemia, em um momento de muitas perdas humanas, muitos impactos, a cultura não vem só para alegrar, não vem só para encantar. Ela também vem para dizer: “olha, por trás disso tudo, desse palhaço, desse autor, desse audiovisual que você está vendo, dessa feira, desse artesanato, do jongo, do congo, do maracatu, das artesanias, tem gente, gente que está precisando de apoio. Não é um pedinte, não. É um direito cidadão, que está na constituição brasileira. É um direito mínimo, de condição de cidadania, de vida digna”. Isso, para mim, foi o que colocamos na centralidade e não: “eu quero público, eu quero mérito, eu quero ser aplaudido”. Não tem aplauso neste momento. É um recuo para olhar esse entorno, esses técnicos, essas pessoas que estão nos bastidores, essa invisibilidade de muitos e muitas que fazem parte do processo de criação e, muitas vezes, são desconsiderados ou invisibilizados. No meu entender, isso veio para a centralidade. Isso, para mim, simbolicamente, foi muito importante.
Eu usei o livro A teatralidade do humano no primeiro ciclo de pensamento que eu fiz. Jean-Claude Carrière fala em uma fragilidade. Mas, longe de considerar que isso é um enfraquecimento, ao contrário, considera sua potência. A partir dessa fragilidade, é como se você dissesse: “eu tenho finitude, eu posso morrer.” A partir das minhas possibilidades, eu tenho possibilidades de reverter esse quadro. É como se exigisse sermos criadores para mudar uma forma de sociedade, uma forma de vida. Não é só com nossas artes, no sentido de um reconhecimento, de aplauso ou de apoio de um edital. Não, é muito mais do que isso, muito mais profundo. Eu acho que, ao mesmo tempo, vimos, durante esse processo, muitos espetáculos, muitos trabalhos online, que deram um reencantamento.
[Sharine] Qual a relação da Lei Aldir Blanc com o Sistema Nacional de Cultura e qual a importância do Sistema para a política cultural?
[Ana Lúcia] Eu acho, cada vez mais, que os Sistemas Nacional, Municipais e Estaduais de Cultura, são a base, assim como o SUS, o Sistema Único de Saúde, no qual nos referenciamos. Ficamos meio impotentes em um momento de pandemia, de catástrofe sanitária, de morte. Todos achavam que seria uma quarentena, que driblaríamos o coronavírus em quarenta dias, mas vamos para o segundo ano, sem previsão, chegando uma terceira onda, com um novo vírus e morrendo gente. O que fazer? O nosso SUS, se já era, é cada vez mais uma referência local, nacional e mundial para garantirmos vidas. Assim como o SUS é para a saúde, nosso Sistema Nacional de Cultura é para a Cultura. Não vamos mudar esse quadro de vulnerabilidade, de precariedade, somente com uma lei de emergência. Ela já está dizendo “emergência”. Nós temos que ir além da emergência. Já temos uma precariedade, uma informalidade, uma fragilidade anterior à pandemia, principalmente com a desinstitucionalização crescente que decorre desse sistema capitalista neoliberal. Querem privatizar as universidades públicas, estamos vendo cortes profundos na CAPES [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior], no CNPQ [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], no sistema de pesquisa, nas estatais. No Ministério da Cultura, tínhamos muitas parcerias com a Petrobrás, com a Eletrobrás, com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento]. Nós tínhamos um setor de cultura dentro da Petrobrás. Fizemos muitas parcerias de políticas públicas e de editais com essas estatais que estão sendo vendidas. Isso tudo está impactando muito, além da guerra cultural pela qual estamos passando. Trabalhamos com pensamento, com criação, com potências de criação, de inovação. Isso incomoda. Muitas peças foram retiradas de cartaz, muitos filmes, a Bienal do Livro… Estamos passando por um processo de desmonte das políticas públicas, um acelerado processo.
Para além da emergência, de uma renda básica, de uma necessidade muito importante, há as políticas construídas de baixo para cima, por meio de conferências… Como vamos desconsiderar a memória? Por exemplo, no Rio de Janeiro, fizemos quatro conferências estaduais, muitas conferências municipais, mas, até hoje, não foram definidas as ações e metas do Plano Estadual de Cultura. Portanto, esse Plano existe no papel, mas ainda não está em execução. As reiteradas descontinuidades das políticas públicas de cultura ocorridas em determinadas gestões me incomodam. O plano municipal continuava sendo protelado, mesmo depois de ter trabalhado como consultora nesse documento desde 2012 e de termos nos debruçado, no ano passado, sobre as metas e ações, por meio do Conselho Municipal de Cultura. Só foi retomado recentemente pela Secretaria Municipal de Cultura, que contratou um consultor e reuniu-se com o Conselho e com a equipe técnica, da qual faço parte, para discutir e finalizarmos essa etapa. Agora, deverá ser apresentada uma minuta de projeto de lei para o prefeito, para que a envie para a Câmara Municipal. Então, a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deverá votar para que, em seguida, o projeto comece, de fato, a ser executado.
É como se você dissesse para a sociedade civil inteira, que se reuniu, fez pré-conferência, colegiado setorial, etc… Como você vai explicar para um gestor público: “o que você fez com isso? Você estava lá. Você me ouviu. Eu apontei uma proposta. Eu vi a fragilidade do meu setor, da minha área, da minha região, da minha cidade, do que eu faço. Mas você não tirou do papel? Está guardado no seu arquivo? O que você fez com isso? O que te dá o direito? Você que está de passagem e eu que estou sem condições básicas de sobrevivência”. Nós não podemos desconsiderar esses direitos básicos da sociedade civil, que construiu, propôs, apresentou diretrizes, fez o projeto. O que vamos fazer com isso? Tudo bem que mudou o radar, entrou uma pandemia. Teremos que considerar novas necessidades, evidentemente. Mas não podemos desconsiderar o que está feito, como o Sistema de Indicadores e Informações Culturais, os cadastros. Temos que renová-los e atualizá-los, assim como as conferências e os conselhos. Cada vez mais pontuamos: “Secretária, a senhora está lançando um monte de editais. Passou por aqui? Não, a senhora não está passando por nós. Para que existimos, para que estamos aqui, entende?”
Eu acho que essa política vai consolidar uma continuidade para além de uma gestão, com metas e ações de curto, médio e longo prazo. O que é mais urgente? O que negociamos e dizemos: isso é de médio prazo, mas está no radar? O que é de longo prazo e almejamos conseguir? Senão, é um monte de papel, de reunião, simplesmente para nada, para fazer de conta. Tiramos fotos: “olha, realizamos tais conferências e não consideramos toda essa construção, que também está consolidada em leis. Tudo o que estamos falando, conselhos, planos, fundos, sistemas, indicadores, tudo isso foi resultante de elaboração de leis, de aprovação de leis. O quanto o Fundo Nacional de Cultura foi importante! Foi a partir do recurso do fundo que a Lei Aldir Blanc foi realizada. Eu ressalto que é para além de uma gestão quando defendo isso: “ah, não é porque foi uma gestão do PT, foi uma gestão do Gil”. Não, é para além daquele ministro, é para além de determinada gestão. É simplesmente a gente continuar com essa memória, esse histórico, com a consolidação das políticas que desenhamos, que pontuamos, que elaboramos e que nos cabe, o tempo todo, rever e atualizar. Elas não podem sair da nossa centralidade. Eu acho que as dimensões simbólica, cidadã, econômica, o envolvimento dos conselhos e fóruns regionais, o processo todo de mobilização, de live e de debate foram fortalecidos. É claro que, em algumas cidades, foi mais difícil. Muitos me ligavam: “Ana, aqui na Baixada Fluminense está muito burocratizado…” Não foi fácil. Ao contrário.
Procuramos ressaltar, nos editais da Lei Aldir Blanc, a gestão das mulheres (que são a maioria), a gestão das comunidades LGBT (que estão sendo cada vez mais censuradas e que fazem cultura), das comunidades tradicionais, dos indígenas, quilombolas, ciganos e de outras tantas culturas que estão sofrendo invasão de terra… Nesta semana, tivemos invasão de terra Munduruku[1], Medida Provisória da Grilagem e outros. A COVID-19 está atingindo mais frontalmente essas comunidades. Então, se elas já eram prioridade para nós, agora, mais do que nunca, precisamos abraçá-las.
Uma coisa que também me encanta são as campanhas solidárias em que estamos envolvidos, na sociedade civil, na ausência de um estado: Paraisópolis, o pessoal do Museu da Maré, Rocinha, a CUFA [Central Única das Favelas]. São várias, várias. Nós pontuamos muito para o Estado: “olha, se a Senhora é Secretária de Estado, tem que estar junto com cada um dos 92 municípios do Rio de Janeiro para evitar a devolução do recurso, para fazer com que chegue à ponta”. Me emocionaram muito as ações. Vou citar um exemplo: em Cachoeira de Macacu, foi colocado um carro de som. “Poxa, está difícil chegar porque é online, muita gente não tem internet. Então vou colocar um carro de som”. Fizeram até uma estatística porque chegaram à vizinhança: “você ajuda a divulgar os editais aqui da cidade para que cheguem às pessoas?” Eu fiquei emocionada. Eu vi ações como essa, pelos municípios, com essa preocupação de fazer chegar aonde tem que chegar. Eu acho que o meu entender foi um pouco otimista [risos].
Estou lendo a Lei Paulo Gustavo, a Lei Cultura Viva, com os pontos de cultura, que deu uma oxigenada também. Como eu disse, há muitos inadimplentes e houve mudanças. Eu fiz o meu mestrado sobre os pontos de cultura, sobre essa política, e era muito difícil. Tinha que ter a figura jurídica… Isso já mudou. Ou seja, deve-se pegar essa política pública e ir amalgamando, melhorando, abrindo acesso, fazendo as alterações necessárias. Então, acho que a Lei Aldir Blanc veio dar uma oxigenada no Sistema, mas também em outras políticas, como o Cultura Viva.
[Sharine] Que bom. E com a participação popular, social, não é? Isso é muito importante.
[Ana Lúcia] Exatamente. Tem uma coisa de pertencimento. Isso me pertence. Essa política é minha também. Quando eu falo da fragilidade do nosso setor… O Aldir Blanc, que dá nome à Lei, esse grande compositor, compôs quinhentas mil músicas, é um músico histórico. A Lei ganha o nome dele. Ele morre. Também era um músico que estava em situação de fragilidade no setor, assim o Nelson Sargento, com 95 anos, que perdemos ontem, e que, em algum momento, conseguiu uma previdência, pela Cultura, porque brigamos por isso. Mas também tinha dificuldades. Eu uso como exemplos. São legados, são patrimônios históricos para nós, até hoje. Não à toa, o Paulo Gustavo agora dá nome a outra lei. O nível de fragilidade em que se vive nesse setor… Nós temos o Retiro dos Artistas, aqui no Rio. Havia vários artistas conhecidos lá, o filho do Abdias do Nascimento e outros tantos, por quê? Porque temos esses pontos frágeis, que só políticas regulatórias, de Estado, irão resolver. Sou defensora disso e até briguenta [risos].
[Sharine] Com certeza. E qual seria o caminho para implementarmos essas políticas? Para conseguirmos fazer com que funcionem?
[Ana Lucia] Estou ressaltando os pontos muito otimistas. Eu nunca vi um legislativo abraçando tanto a causa da cultura, mesmo com as diferenças. Quando eu contei sobre essa enormidade de campanhas e cartas, que mandávamos para cada um, quando eu digo que, na Câmara tivemos votos por unanimidade, para dar o exemplo da Lei Aldir Blanc, estamos falando não somente de esquerda. Estamos falando de um “catatau”. Mesmo quando a Benedita chama esses vários parlamentares, esses oito partidos, há partidos que são de centro, outros são mais à direita e, mesmo assim, defenderam a causa. Então, para mim, isso é sinal de que conseguimos sensibilizá-los. Na Câmara, foi a deputada federal Jandira Feghali que apensou outros tantos projetos em torno da Lei Aldir Blanc. No Senado, o relator foi o senador Jaques Wagner. Havia várias emendas. Ele fez um apelo. Foi lindo também! Acompanhando as audiências, estávamos assim: “aprova já”, naquela campanha. Nunca acompanhamos tanto uma audiência pública. E ele fazia um apelo a cada senador: “por favor, retire sua emenda porque estamos falando de uma emergência. Se o senhor apresenta uma emenda, teremos um tempo…” Isso também foi bastante considerado. Participamos recentemente de uma audiência pública na ALERJ [Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro], com a Secretaria de Estado, para falar de seus planejamentos e ações. Participamos da Comissão de Cultura, e foi dali que originou a Lei Aldir Blanc.
Temos que ressignificar, ressaltar, apoiar as políticas públicas do Sistema. O pessoal está dizendo: “poucos assinaram a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, por quê?” Na época em que eu estava no Ministério, muitos tinham assinado a adesão. Sabemos que isso não teve continuidade. Muitos que assinaram não deram continuidade, não criaram fundo de cultura, saíram da Secretaria. Outra coisa: conseguimos ter uma secretaria específica, o fortalecimento do órgão gestor, como no caso de Paraty [RJ], que era Cultura e Turismo e passou a ser somente Cultura. Mas, em algumas cidades, isso recuou de novo. Sabemos que, quando a secretaria é mista, “cultura, esporte, lazer e desenvolvimento…”, a cultura fica num roldão, fica a reboque.
Outra coisa que acho importante são as políticas intersetoriais, interdisciplinares, fazermos política como o Ministro Gilberto Gil fazia: cultura e comunicação, cultura e agricultura, cultura e educação. Nós participamos do processo do Plano Nacional de Cultura e conseguimos levar algumas diretrizes principais para o Plano de Educação. Fizemos o inverso também. Eles mesmos diziam nas reuniões a que fomos pelo país: “temos tanta demanda de corrigir evasão escolar, analfabetismo e tal, que vocês da Cultura, quando chegavam com as demandas de vocês, nos soavam pesadas”. Eles mesmos admitiam. Ou o “ensino da cultura nas escolas” chega como mais uma demanda para o professor, para o diretor. Precisa desse trabalho, evidentemente, de construir junto. Estou dizendo isso porque, na Lei Aldir Blanc, está colocado que as apresentações das contrapartidas são principalmente nas escolas públicas. Mas não é só apresentar lá na escola. Que escola é essa? Como eu insiro o educador que já está lá, às vezes ganhando pouco, com milhões de demandas, com uma classe inteira? Como esses fazeres e saberes entram nas salas de aula com as leis de ensino das culturas afro-ameríndias, afro-quilombolas e de ciganos, indígenas? Como envolver esses educadores? Se estamos falando de algo de baixo para cima, não pode ser uma cultura de cima para baixo dentro da escola. Não podemos chegar desse jeito. Eles já têm os saberes, já têm os fazes, e precisamos aprender. Senão, fica algo assim: “ah, eu tenho um grande saber que vou levar para a escola”.
Outra coisa que ressalto é que, nos editais da Lei Aldir Blanc no Estado, uma das coisas era: “60% atenderem ao interior e 40%, à capital”. Nós nos preocupamos muito, também, com a conceituação dessa diversidade toda, somente no inciso II são 42 itens. De que culturas estamos falando? Falamos de museus, bibliotecas, livrarias, feiras, sebos, ateliês, escolas, espaços independentes, arte pública… Uma das pessoa que entrevistei para o artigo sobre trabalho me disse o quanto fica inviabilizada a arte pública. Ele é palhaço e faz apresentações na supervia, no metrô, nas barcas. Ele diz que é uma arte, cujo apoio foi muito pedido à Secretária nas reuniões. Os circos também são muito mais impactados. Ou seja, precisamos perceber quem mais precisa. Essa cultura individualista que estamos vivendo, o capitalismo neoliberal, nos leva a olhar ao meu empresariamento, “eu”. Agora estamos nesse exercício de olhar para o entorno porque a política pública pressupõe isso. Entre os órgãos vitais do país, alguns precisam ser mais tocados do que outros, no meu entender. Sempre precisaram e, agora, mais do que nunca.
Por isso, abrimos, para as culturas indígenas e as territorialidades, um seminário que estamos fazendo na UFF, um ciclo de debates que nomeamos de Emergência de vidas e imaginários. Depois vêm as culturas quilombolas, os territórios, esses desafios, cidadania e direitos humanos… Essas culturas têm muito a nos dizer, e sempre tiveram. Elas amalgamam nossa história brasileira, nossa cultura, nossa memória, nossa ancestralidade. Contraditoriamente, elas estão mais oprimidas, mais discriminadas, mais atingidas, menos apoiadas. No Ministério, nós nos obrigávamos a repensar o formato dos editas. Pensa bem, como vamos chegar a uma cultura indígena: “olha, você tem que criar uma pessoa jurídica para ser apoiado”. Você está interferindo nessa cultura, certo? Então, nós criamos o formato de prêmio, até com histórias orais, para chegar a alguns jovens, para chegar a algumas culturas a que precisávamos chegar de outro jeito e não com esse formato que não se adequa. Isso exige sensibilidade da gestão, exige sensibilidade da parte legislativa, da sociedade civil. Exige sairmos desse lugar de pensar só no seu projeto, no seu lugar de fazer. Não só a Lei Aldir Blanc, mas também as campanhas solidárias fizeram abrir o leque e olhar o mundo que criamos, como se ele estivesse se esfacelando para nós e dizendo: “olha, humanos, o mundo que vocês criaram precisa de mudanças, vocês precisam repensar essa forma de viver em sociedade”. Isso passa, evidentemente, pelas políticas públicas. Mas as políticas públicas podem virar só uma lei no papel se não abraçarmos.
Estou vendo esse do-in antropológico, essa coisa pulsante, entendeu? Eu acho positivo, e com pesquisas, como a que você está fazendo. Você está num órgão público, você tem suas inquietações, você tem seu papel como gestora e seu papel como pesquisadora, de fazer esse distanciamento do que você executa na gestão, com as limitações que temos, nas diferentes gestões que atravessamos, para identificamos aonde está chegando, como está chegando e quais são as fragilidades da própria execução, para corrigirmos. Evidentemente há fragilidades. Uma das coisas é o prazo. Estamos agora vendo necessidade de discutir esse prazo de prorrogação. Num país dessa enormidade, com mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, cinco mil e tantos municípios, 3 bilhões parece muito recurso, mas não é.
[Sharine] Por outro lado, é o maior que já tivemos, em toda a história das políticas culturais.
[Ana Lúcia] Sim. É outra questão para avaliarmos. A cultura, com muita luta, com o Ministro Gil, foi quando mais conseguimos recursos. Mas chegamos, no máximo, beirando 1% do orçamento. Nossa briga, na época da PEC 150, era para chegar, no mínimo, a 2% do orçamento da União, 1,5% do orçamento do Estado e 1% do orçamento do Município. Não conseguíamos chegar. É muito difícil, sabemos. Eu fiz um comparativo, um levantamento junto com o Steven Ross, que é professor na área de estatística, e há 70 vezes mais recursos no Ministério da Defesa do que na cultura, sendo que não temos guerra. Por que tanto dinheiro no Ministério da Defesa, Exército, Marina e Aeronáutica? – eu pergunto. São questões para considerarmos, além dessas políticas interdisciplinares, como eu disse. A cultura atravessa as diferentes áreas. Precisamos pensar as dimensões de educação, cidadania, direitos humanos, agricultura, comunicação. O Canclini fala da descidadanização cultural. Foi uma das coisas que me preocupou muito durante o processo. Eu falei: “quem mora bem longe e não tem acesso digital, como fica sabendo que tem uma ação?” Tudo isso me preocupava muito. Precisamos pensar nesse aspecto um pouco mais amplo.
[Sharine] Para terminarmos, qual foi a preocupação de vocês, dos articuladores da lei, sobre a formação de público e o acesso da sociedade civil à cultura e às artes? Eu sei que você já falou sobre as escolas, mas acho que poderia aprofundar um pouco mais.
[Ana Lúcia] Isso está na Lei, principalmente a contrapartida nas escolas públicas. Está ressaltado, com as medidas de proteção necessárias, para valorizar e ressignificar a questão de cultura e educação. Vale ressaltar que o Ministério, lá atrás, era Saúde, Educação e Cultura. Depois passou a ser MEC – Educação e Cultura. Mas foi fundamental, evidentemente, termos um Ministério específico para a Cultura. A relação com as escolas está muito ressaltada na Lei. Foi muito destacada a importância, na Lei e nas conversas, nas reuniões e webnários, disso se ampliar, de chegar às comunidades locais, seja quanto à individualidade do projeto (quantas pessoas estão envolvidas?), seja quanto ao proponente, o que envolve o fazer (as camareiras, os bilheteiros, os sonoplastas, todo esse grupo grande que envolve um fazer artístico e cultural, e que às vezes é relegado ao segundo plano).
Eu problematizo. Cada vez mais estamos ampliando esse fazedor de cultura, esse lugar, conceitualmente falando. Por isso eu comecei, como atriz, a sair do palco e olhar a teatralidade do humano, do comum, de que fala Jacques Rancière. Rancière problematiza muito o espectador, “o espectador emancipado”. Ele não é um passivo, que só recebe, senta-se e frui. Ele é um fazedor. Cada vez mais, e isso me deixa muito feliz, nós quebramos o lugar de representação, de distância. Comecei a me interessar, a trabalhar com a teatralidade (no meu caso, é o teatro, mas cada um tem sua linguagem, onde atua mais), com essa teatralidade do comum, dos fazedores de cultura que teatralizam, às vezes sem saber. Eu trabalhei com a população em situação de rua, usando as técnicas de Augusto Boal, do Centro de Teatro do Oprimido, o coringa. Foi a maneira como consegui trabalhar com jovens e adolescentes em situação de rua. Eles nunca tinham trabalhado com teatro, mas trazem em si o potencial de criação, que talvez não tivessem descoberto e que cabe apenas provocar, tocar. Por isso são importantes as escolas públicas.
Você está dizendo: “mas como fica o setor que vive disso?” Eu nunca consegui viver disso. Tive que me reinventar, ser jornalista, gestora… Vejo a dificuldade mesmo de vivermos somente, como a Rita Lee dizia, “office boy de dia e bandinha de rock à noite”. Ela brincava com isso. O potencial de criação é de todo humano. Isso me encanta. Senão, contraditoriamente, eu também acabo fazendo uma cisão entre quem cria e quem consome, quem frui apenas, entende? É complicado, mas eu gosto de trabalhar com oficinas, com ciclos, trazendo esse comum para a centralidade. Se formos à história da fotografia, há aquela vendedora de peixes que Walter Benjamin problematiza, assim com outros autores. Sair desse lugar de só ser fotografado, só ser registrado, ou só ser público, eu acho que muda conceitualmente. Isso me atrai do ponto de vista da Lei Aldir Blanc, quando você não sabe mais, não está mais preocupado com “eu sou a proponente, eu sou a autora, eu sou a curadora ou a trabalhadora da cultura”. Acho que estamos saindo desse lugar para repensar a descentralidade.
Agora tentam nos dizer: “sejam empresários de si”. Isso é autoexploratório. Eu aprendo muito com as culturas originárias porque eles vivem precários, eles vivem com o básico do básico, e fazem suas artesanias e fazem seus maracás e fazem seus grafismos. Eles fazem. Outro bom exemplo é Em busca de um teatro pobre. O Grotowski não esperava o público. Ele não esperava. O Abujamra, que foi um diretor com quem trabalhei, colocava todo mundo no palco. Acho que é uma coisa para repensarmos: o lugar da representação e o lugar da fruição, como se fôssemos levar para a comunicação, de onde venho também. Hoje todos estão virando youtubers. Tudo bem que não é um jornalismo, mas todo mundo está se sentindo… É uma questão também em outras áreas, não só na cultura. Todo mundo quer pegar as ferramentas e “ah, vou criar meu vídeo, vou criar meu canal, vou criar minha página”. Isso está acontecendo também, esse midialivrismo. Eu sonho com uma vida comunitária, coletivada.
[Sharine] Você quer falar mais alguma coisa?
[Ana Lúcia] Ontem pela manhã, eu encerrei ontem uma live, com SINTERJ [Sindicato de Empresas de Transporte Escolar e Afins do Estado do Rio de Janeiro], SERPRO [Serviço Federal de Processamento de Dados], DATAPREV [Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social], sobre os ataques à educação e à cultura e as privatizações. Eu gosto muito desta frase, é um trecho do Manoel de Barros: “a expressão reta não sonha, não use o traço acostumado; a força de um artista vem de suas derrotas; só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro; a arte não tem pensa: o olho vê e a imaginação transvê; é preciso transver o mundo”. Acho que estamos frágeis. Mas como disseram Jacques Rancière, Shakespeare, Manoel de Barros, sobre essa fragilidade ou essas derrotas, é a partir dessas perdas que encontro minha dimensão humana, até mesmo para criar. Se eu estiver plena o tempo todo, não terei uma sensibilidade apurada para olhar essas inquietações. Talvez eu precise me deparar com essa dimensão humana, chamada fragilidade, essa essência de vidro, como o Jean-Claude Carrière chama, essa essência de vidro humana, que se quebra. Eu acho que aí há um potencial de transver o mundo, de criação, de que eu gosto, que me instiga. Posso estar “fudida”, posso estar no baixo do baixo, mas de lá vai sair alguma coisa. Muitos artistas me inspiram, Van Gogh, Marx (que levou vinte anos para escrever O Capital). Eu poderia citar Antonin Artaud… Van Gogh morreu sem ser reconhecido, precisando viver da ajuda do irmão, sem vender uma obra, e é magnífico o que ele fez. Passou fome, foi para o hospital psiquiátrico, com dificuldades, e estava ali, com sua potência. Essas pessoas me inspiram a dizer: “eu não vou perder o potencial de transformar isso que está no meu entorno”. Com a estrutura, com a política pública também há uma coisa de criação. Da sua parte, como pesquisadora, como gestora, não é só naquele lugar da arte. O seu envolvimento é extremamente humanitário, simbólico, coletivo, cidadão. É seu lugar de cidadania e de vidas humanas, que eu acho extremamente simbólico, muito potente. Eu queria parabenizá-la.
[Sharine] Imagina! Eu que agradeço muito! Foi ótima a entrevista.
[Ana Lúcia] Estamos muito reflexivos sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Estamos passando por uma mudança significativa. Acho que é uma mudança de ciclo, uma Fênix que está encerrando, fazendo o luto, perdendo a plumagem, mas vai ficar para um novo tempo. Há perdas, há luto, há uma questão espiritual também. Há uma mudança que estamos atravessando.
[Sharine] Com certeza. O mundo não volta a ser a mesma coisa.
[Ana Lúcia] Não tem novo normal, nem estava normal antes.
[Sharine] Não. [risos] Não estava nada normal. Havia um montador de exposição na Funarte, aqui em São Paulo. Ele se aposentou. Ele é uma graça de pessoa e é todo místico. Ele vê Ovnis [Objetos Voadores Não Identificados], é muito legal. Tem uma fazenda aonde ele vai e consegue ver os extraterrestres. É muito bacana. Ele fala que estamos terminando uma fase agora para começar uma nova. Há uma palavra que ele sempre falava. Acho que é uma palavra indiana. Kali Yuga.
[Ana Lúcia] Tem a era de Kali também… Meu marido se identifica muito com o Hare Krishna. Há uma mudança, sim. Todo processo de fechamento de um ciclo tem perdas. É como quando você se separa de alguém. Tem uma dor, mas você precisa sair porque está mal ou aquela relação está ruim. Tem um fechamento, tem dor, tem luto também. Tem um distanciamento, tem uma despedida, como tudo o que fecha um ciclo para abrir outro. Eu concordo. É assim que eu avalio. Acho que tem uma mudança de tempo. Eu uso em minha tese. Acho que foi o Vladimir Safatle que falou… Eu citei Peter Pelbart, citei outros tantos… Ele fala que um determinado tempo acabou e é preciso de um corpo, um outro corpo para esse tempo. Acho que ainda estamos construindo. Que tempo será? Ainda tem essa passagem, não é?
[Sharine] Acho que estamos construindo… Vocês, principalmente, com essas novas leis, com essa mobilização.
[Ana Lúcia] Você também, com sua pesquisa… É demorado, não imediato. Sabemos que as mudanças são lentas ainda, dependem de uma série de fatores. Mas estão em execução. Amanhã teremos um ato grande[2]. Vários colegas perguntam: “Ana, você vai?” As pessoas estão divididas. Será que vão ou não para a rua? Isso por causa das medidas protetoras contra a COVID-19. Só que eu acho que temos que pensar radicalmente outra forma de sociedade. Isso que estamos vivendo já deu. Imprimimos muitos desses conceitos, essa coisa do mundo dos negócios, do mundo empresarial, e isso entrou fortemente no Estado, nas políticas, no nosso comportamento. Há um comportamento nosso também, que adotou isso, de certa maneira. Há uma mudança necessária a ser feita, não só com relação a governos. Não se trata de tirar um governo, colocar um governo. Trabalhamos com política de Estado. É uma mudança mais profunda, estrutural, de novos pensamentos, nova pedagogia. Conte comigo. Estamos juntas. Temos que nos juntar cada vez mais. Você não está sozinha, mesmo de longe. Estou vendo você somente por uma tela. Queria estar perto, dar um abraço.
[Sharine] Mas, quando passar tudo isso… Prometi para tanta gente que vou conhecer os lugares… Eu falei com gente do Maranhão, falei com gente do Tocantins, Ceará, Minas… Quando acabar a pandemia, terei que viajar para um monte de lugares.
[Ana Lúcia] Vamos atravessar e sair mais fortes desse processo. Desejo boa gestão na Funarte. Acho que a nossa Funarte é nossa. Nem preciso dizer. Aonde eu vou, falo da importância das fundações vinculadas, de todo o Ministério, das políticas. Quando falamos de políticas, estamos falando dessas instituições.
[Sharine] Eu tenho um carinho, não só pela fundação, mas pelo espaço público que é a Funarte, pelo teatro… Temos o Teatro de Arena, aqui São Paulo, e o TBC [Teatro Brasileiro de Comédia]. É um patrimônio nosso.
[Ana Lúcia] Muito. Quando fui do processo de seleção da Petrobrás, o maior volume de projetos de teatro era de São Paulo. Eram muitos. Era difícil para escolher. Falávamos com a direção: “aumenta um pouco o recurso para apoiarmos mais”. Eram só projetos bons. O maior volume vinha de São Paulo.
[Sharine] Legal. Acho que é isso, então, Ana. Ficamos em contato.
[1] Etnia indígena brasileira
[2] Manifestação social, realizada em diversas cidades do Brasil.